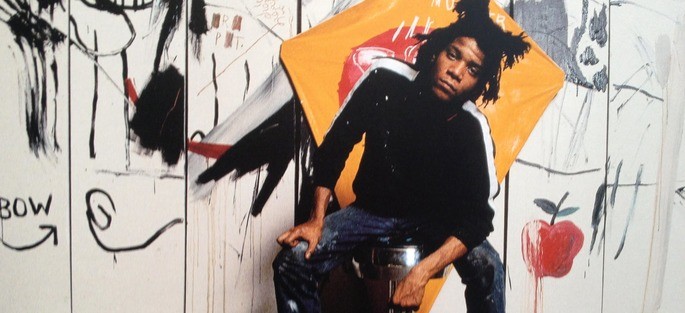Em uma 1h20 de filme, o telespectador poderá acompanhar a intimidade dos grupos, tanto nos preparativos quanto nas apresentações que aconteceram em diferentes circuitos, durante os seis dias da festa. Visitando de perto não apenas a beleza, a musicalidade, a alegria e a fé destas pessoas, mas também a realidade paradoxal, difícil e encantadora que, muitas vezes, passa despercebida aos olhos de quem os vê desfilando na avenida.
Respeito, nobreza, amor ao próximo e autoestima – valores ensinados e passados de geração a geração por meio do secular sistema matriarcal do ‘povo de santo da Bahia’, muito bem ancorado pelas Mães: Hilda Jitolú, Mirinha de Portão e Santinha de Oyá – são ferramentas que estas comunidades afro-baianas usam para continuar resistindo e mantendo suas mensagens vivas nos, cada vez menores, espaços dedicados ao chamado “carnaval do ouro negro”. É um grande momento de visibilidade, que eles aproveitam para mostrar todo o trabalho social que é desenvolvido ao longo do ano dentro dos terreiros, e que há décadas vem transformando a vida das populações dos bairros da Liberdade, Portão e Pirajá, onde atuam os blocos.
Aulas de percussão, dança, costura e tecelagem são apenas algumas das atividades oferecidas para crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam as sedes. Com intuito não apenas festivo, os três blocos exercem papel fundamental na reapropriação cultural, enaltecendo a negritude, a beleza, a história, a religiosidade, toda riqueza e força dos antepassados africanos, passado que, infelizmente, não se ensina nas escolas e que é pouco divulgado.
A música é a linguagem principal, embora os tecidos e estampas tenham papel fundamental para contar a narrativa escolhida por cada bloco ano a ano. “Minha mãe fazia rechilieu e bordados e pra fazer isso você tem que pensar antes todo um desenho. E decidi fazer isso que ela fazia só que nos tecidos, sempre contando histórias e escrevendo nos panos”, diz Alberto Pitta, artista plástico, fundador do Cortejo Afro e responsável pelo figurino de vários blocos desde os anos 90, quando foi diretor do Olodum no auge da chamada axé music.
“A gente procura sempre fazer o melhor, buscando a qualidade no trabalho, no produto, porque as pessoas exigem e isso é importante”, completa. Qualidade e interesse estético lançados primeiramente pelo Ilê Ayê, vale dizer, de quem os blocos que vieram depois acabaram herdando.
Entre formas elegantes e educadas de protesto, contadas por meio da música e vestimenta, em um encontro harmonioso entre tradição e modernidade, “Samba de Santo – Resistência Afro-baiana”, nos sopra também esperança ao mostrar o protagonismo da mulher, o respeito às questões de gênero e o acolhimento sem preconceitos de qualquer pessoa que precise de ajuda, presentes no cotidiano desses grupos.
Modelos de cidadania avançados, equilibrados social e economicamente. “O que deixamos de aprender com essas experiências coletivas que estão aí há séculos habitando este planeta de forma sustentável, que vêem na natureza a fonte da cura, que se alimentam de sua própria cultura, é muito significativo. É uma pena que a gente, enquanto brasileiro, tenha se distanciado e não conheça a fundo traços tão importantes da nossa genealogia”, comenta Betão Aguiar.
“Quando você conhece um bloco afro que tem como missão elevar a autoestima de nós, mulheres negras, e o senso crítico, que elege uma deusa negra, é de extrema importância pra gente. Poder falar para as nossas crianças e mulheres que elas são deusas, que nosso cabelo é lindo, que ela pode mesmo deixar o seu black todo ouriçado, passar um batom vermelho, uma roupa colorida!”, conta Gleicy Ellen, eleita Deusa do Ébano do Ilê Ayê 2020.
“Samba de Santo – Resistência Afro-baiana” faz parte do acervo ‘Mestres Navegantes’, projeto que Betão Aguiar iniciou há dez anos ao pesquisar e registrar a cultura popular brasileira pelo viés da música, com seis edições lançadas até aqui. A mais recente, dedicada à Bahia, traz discos de Capoeira, Chegança e Candomblé, além de curtas-metragens com Bule-Bule, Dona Cadu e as Cheganças femininas. A ideia inicial, quando Betão chegou a Salvador este ano para continuar com os registros dos grupos de candomblé iniciados em 2017, era o de filmar mais um curta-metragem sobre as diferentes nações ainda existentes no estado.
Mas os caminhos foram se abrindo e, com a permissão e as bênçãos dos orixás, voduns e nksisis, acabou encontrando um material bem mais profundo e rico. O que fez bastante sentido com o que vinha buscando para a evolução do acervo para outras linguagens, “reconhecer estes mestres e grupos como agentes da cultura contemporânea e não com um olhar folclórico que os deixa fadados ao passado, nos faz perceber o quanto a nossa cultura é viva e está em constante transformação. E quanto precisamos aprender com eles nesse momento que estamos vivendo”, complementa o diretor, indicando o tom político que o filme flerta em muitos momentos.
O longa-metragem conta ainda com depoimentos de Mameto Kamurici, Vovô do Ilê, Dete Lima, Val Benvindo, Vivaldo Benvindo, Aloisio Menezes, Veko Araujo, entre outros personagens integrantes dos grupos. O filme tem a fotografia assinada por Bruno Graziano e montagem por Cauê Bravim, que divide também o roteiro com o diretor. Para compor a trilha sonora original, Betão Aguiar convidou os artistas Junix11 + MayHD. Dentro da série de lançamentos semanais que desde setembro disponibiliza o acervo “Mestres Navegantes” nos canais do projeto na internet, e que acompanham a estreia do longa-metragem, serão lançados os três discos de Candomblé que fazem parte da 2a edição dedicada à Bahia, no dia 20 de outubro em todas as plataformas de streaming.
Curte o Guia Negro? FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO AQUI para continuarmos produzindo conteúdo independente!
LEIA MAIS: