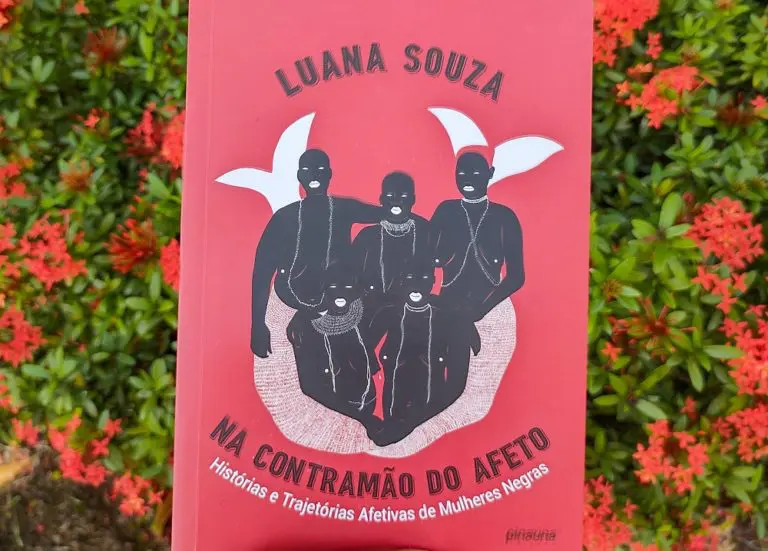É urgente analisar o nomear (o primeiro nomear e não o renomear) na modernidade como algo branco e brancocêntrico. No contexto do Future-se e da gestão Weintraub no Ministério da Educação, uma palavra se tornou a constante do Governo Federal: balbúrdia. Neste texto, escrito originalmente como prefácio, discorro sobre o nomear e a modernidade, de maneira a alcançar uma crítica contra o nomear que não caia nos riscos de uma linguagem como meta narrativa do pós-estruturalismo.
Uma das coisas mais fascinantes dessa modernidade é olhar tudo que ela conseguiu nomear em pouco tempo (são alguns séculos dentre mais de 300 mil anos de existência dessa espécie que chamamos de humanos). A modernidade nomeou nação, sujeito e língua. Nomeou negro e branco. Nomeou o que era escrita em contraste com o que era selvagem.
O signo da modernidade é um nome apressado em nomear tudo. De preferência, assim, de fora para dentro. Brancos, numa expedição para roubar as riquezas naturais do oriente, acharam um território antes e chamaram aqueles povos todos, com inúmeros marcos de distinção entre si, de “índios” porque acreditavam justamente estar chegando nas Índias Orientais. Qual não é a surpresa em se dizer que, no processo de escravização moderna, eles também nomearam o negro. O termo, mais especificamente, é um convidado tardio da modernidade e vai passar a habitar dicionários e livros no apogeu do trágico tráfico negreiro no Atlântico.

O nome de fora para dentro é aquele que é, à primeira vista, repelido. “Esse negro” não é aceito pelo negro fora daquele círculo de intimidade. “Aquela vadia” tampouco o é pela mulher. Por que então haveriam essas palavras, esses nomes, esses signos, de serem usados por aqueles que os receberam na modernidade? Um segredo que só os estudos da linguagem nos permitem dedilhar com tanta significação.
As teorias mais tradicionais de signo esqueceram o óbvio. A oposição a um período historiográfico do projeto de Estado nação europeu, o tal método histórico-descritivista das línguas europeias, fez com que Saussure esquecesse em seu rigoroso objetivismo-piloto justamente de dois componentes que deviam ser sempre a régua de um linguista. Trata-se do sujeito e da história. Disso não se esqueceu, ainda que mais tarde, Mikhail Bakhtin, ao teorizar língua não como um sistema de signos, mas como um sistema de interação verbal, traçado nos sistemas de poder, onde os signos se forjam. Caberia então a essa teoria fazer o não factível, que é quebrar a molécula da intangibilidade da língua. Sim, os sujeitos que falam a língua podem e devem modificar a língua. Até porque as línguas, como dizem Sinfree Makoni e Alastair Pennycook no livro Disinventing and Reconstituting Languages, não são mais do que invenções que denunciam quem as inventa, quem as reproduz e quem as analisa. Um regime metadiscursivo que diz mais sobre quem acredita nessa ficção útil do que sobre ela própria. A língua é uma encruzilhada.
E, já que falo de encruzilhada, é precisamente a partir dela que o signo vai ganhar corpo. Como aceitamos sermos chamados de negros, por essa língua que não é nossa, se não nos chamávamos disso antes da chegada dele, o colonizador? Como aceitamos um signo que não foi um presente, mas imposição de nomeação dessa modernidade brancocêntrica e apressada por tudo nomear.
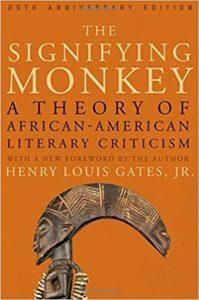
Capa do Livro de Henry Louis Gates Jr.
O macaco que significa é precisamente a forma que o crítico negro norte-americano Henry Louis Gates Jr. usa para “resolver o problema”. Aceitando as bases de Bakhtin sobre o sujeito modificar a língua na interação, ele propõe o tal macaco que significa. Usando a cultura popular dos Estados Unidos, ele analisa a figura metafórica de um macaco que joga o leão contra o elefante. Esse macaco usa sua forma de significar para, primeiro, atribuir xingamento a ambos os personagens e depois dizer que ou o leão teria agredido o elefante ou vice-versa, se desresponsabilizando.
Gates Jr. , em The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism, vai além. A qualidade de falar e enganar por meio da fala sempre foi um marco dos povos que foram escravizados no Atlântico, aqui chamados de negros. Para ele isso também lembra Esù Elegbara, a deidade africana dona de toda comunicação e responsável pela compreensão inteira da comunicação e das contradições humanas. Exu, como chamamos de maneira afrobrasileira, é o macaco que significa entre nós. Ditados populares como “do limão faço uma limonada” ou “quem não tem cão caça com gato” são exemplos de nossa resistência que significa o signo “dado”.
Amadou Hampâté Bâ, ao criticar uma visão única sobre os griôs, nos deixa a dica: o africano não pode ser romantizado como apenas um. Vejamos o fanfarrão, o debochado e o que brinca com a realidade objetiva que o subjetiva e nomeia: ele também ressignifica, revira e transforma esse lugar a todo instante.
As festas e crendices populares são um evidente exemplo. Na Bahia, o sincretismo, que é branco e brancocêntrico, fez com que as pessoas negras irmanadas de maneira obrigatória no cristianismo de domesticação, rapidamente verbalizassem uma substituição de Oxalá pelo Senhor do Bonfim. Porém, muitas não substituíram simplesmente Oxalá, mas enganaram através da linguagem, como o macaco travesso de Gates Jr. Mulheres negras, reunidas na igreja católica, fundaram irmandades históricas de proteção da vida dos homens negros, como é o caso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte ou Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ou seja, significar o signo imposto sempre foi um marco de resistência dos povos racializados que, ao invés de simplesmente rejeitar a nomeação, a usavam para resistir.
Porém, essa estratégia não soa bem quando feita por brancos humanistas da mídia. A campanha “somos todos macacos” não se compara ao “macaco que significa” justamente porque a primeira sai do lócus de enunciação do branco privilegiado que continua racializando, Luciano Huck, e a outra foi cunhada no âmbito do folclore que narra as experiências de luta dos povos negros escravizados nos Estados Unidos.
Renomear, no entanto, é preciso. Veja-se Lélia González, ao dizer que “o lixo vai falar” ao impor sua voz e lugar de fala. Ao contrário de Luciano Huck, o macaco significa na língua usando a própria ironia do branco e não a suposta humanização do branco salvador que se diz macaco, mesmo sabendo que não é. Luciano sabe que jamais será visto como macaco, mas Lélia, que é vista como lixo, o utiliza como sua metáfora de onde se catapulta a desafiar o silêncio branqueador que busca lhe calar.
Para Gates Jr., o signo de imposição, que aqui chamo de “negro” é lido, em sua forma padrão, como significante que tem no mundo seu referente, sendo que, daí, tem seu significado. Para o negro, porém, esse signo aí não se basta. Ele é visto, nos diz o autor, como figura retórica e não como significado. Assim, temos a participação ampla de pessoas negras, oriundas de diversas etnias e reinos nas várias Áfricas, nos mais diversos movimentos de resistência do país desde os primeiros séculos de existência desse novo país, o Brasil: movimentos pró-independência, guerrilhas e quilombos. Dentre as quais, movimentos muito diferentes entre si em que a disputa de narrativa do signo estava em pleno acontecimento. O autor chama isso de “redoubling sign”, o signo da raça, o que eu verso em português como “signo duplo, de rendição e resistência”, baseado na música De Bob Dylan a Bob Marley de Gilberto Gil, onde ele diz: “Quando os povos d´África chegaram aqui/ Não tinham liberdade de religião/ Adotaram o Senhor do Bonfim/ Tanto resistência quanto rendição”.

Ou seja, o signo não é tão óbvio assim. A história das coisas e dos nomes na modernidade nos faz enganar, por vezes, os próprios sentidos ditados pelo ocidente. O humanismo, que desumanizou todos os negros ao produzi-los como a exceção da modernidade, nos obriga a defendê-lo diante dos ataques que nós, que queremos também ser humanos, podemos sofrer quando sairmos dessa zona de não existência que o filósofo Frantz Fanon nomeava de zona do não-ser para finalmente sermos humanos.
É precisamente essa a brincadeira em torno do signo balbúrdia. Aceitá-lo ou não produz pouquíssimo resultado, como os trabalhos que seguem parecem demonstrar. Ignorar tampouco irá produzir algum resultado. Assim como o negro que não se deixou ser produzido de maneira passiva na história, cá estamos nós nessa encruzilhada difícil da significação.
O projeto do Future-se, de desestatização das instituições federais de ensino, em contraponto, e que foi lançado pelo mesmo ministro que chamou a universidade de lugar de balbúrdia, nos chama atenção. O contrário de balbúrdia é a depreciação do bem público e sua terceirização por um modelo que vem falindo o crédito público numa zona miseravelmente corrupta, que são as organizações sociais. Criadas ainda na década de 90, mas com dispositivos constitucionais em forma de emenda, elas são o bode na sala. Primeiro, tal como lemos também nos regimes de colonialidade, se produz a ideia de má gestão do bem público (em que se gasta muito recurso público para pouco resultado) para depois gastarmos o triplo ao repassarmos recursos públicos para que uma entidade promíscua de Direito público e privado faça o mesmo, e ainda de maneira pior. As universidades públicas brasileiras são um exemplo consistente de gestão participativa. Têm qualidade e produzem pesquisas e números de fazerem inveja a vários países do mundo justamente porque aqui o ensino é público e gratuito, e todos nos perguntam como, sendo público e gratuito, conseguimos nos autofinanciar. Em algumas universidades do mundo professores são assistentes de ensino que vivem com contratos de curta duração de universidade em universidade. Não somos jamais um mau exemplo para o mundo, mas um excelente. Nosso modelo não agrada o mercado porque a burguesia brasileira não quer pesquisa, mas mão-de-obra qualificada para fazê-la ganhar mais dinheiro exportando matéria-prima a troco de banana enquanto importamos dos chineses e pagando a eles trilhões por eles terem industrializado o que compraram de nossa mão. A ciência jamais vai topar isso. O Future-se é, por si só, o aceno mais rigoroso a esse sistema operatório que quer colocar a mão nas nossas pesquisas.
A ideia de balbúrdia, portanto, é uma figura de linguagem interessante. Afinal, como fazer pesquisa sem intervalos para mimetizar o sentido da coisa pesquisada e, com isso, celebrá-la? Como gravar entrevistas e analisar cada uma delas sem, com isso, atribuir humanidade ao desumanizado, sem marcar, como faz Lynn Mário Trindade de Meneses e Souza no texto Glocal Languages, Coloniality and Globalization from below, presente no livro Glocal languages and Critical Intercultural Awareness, o não-marcado? É precisamente a necessidade de localizar os corpos que estão atrás do nosso corpus e que pululam desenfreados nas nossas escritas que nos faz “balburdiar”. Usar esse termo, tal qual uso “negro”, não me faz aceitá-lo como quer o excelente ministro, mas trata-se de dar a ele outra significação, a da luta.
Eu não venho problemas em dar nomes, desde que o nomear sempre destrave o e desnude o linguajar supostamente padrão do branco normativo, desse que fala como se não falasse, que sugere como sua eterna imposição. É preciso desvendar o branco na sala do nosso próprio discurso.
LEIA MAIS: